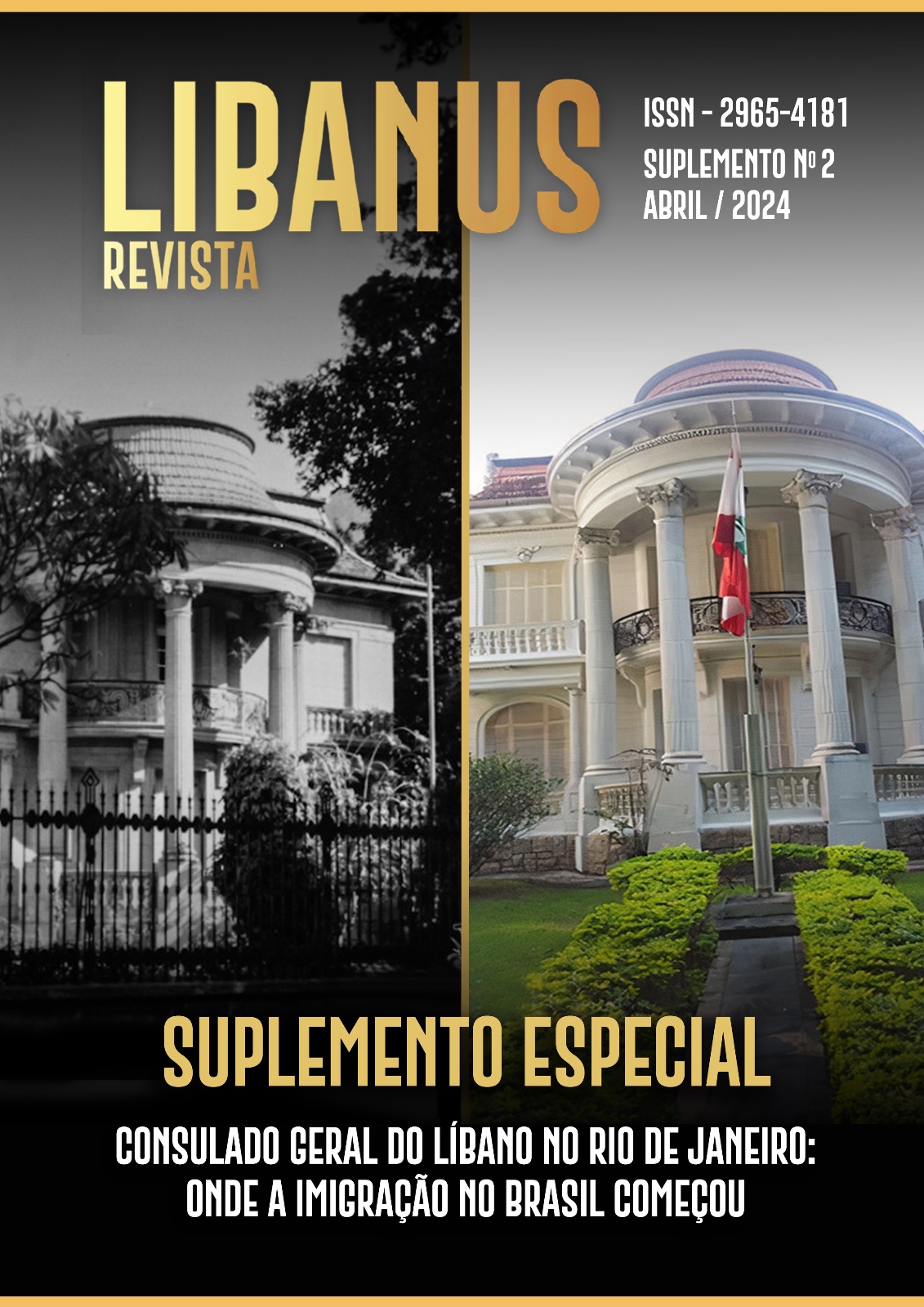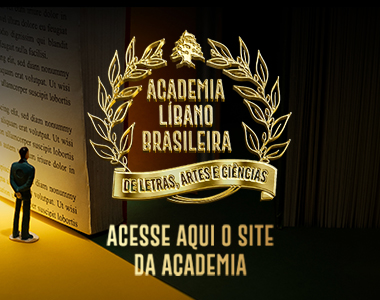A literatura, de alguma forma, atropelava a vida cotidiana. Desde que, por volta dos 10 anos, chegou a um acerto com o poeta cego que tocava a pequena e única livraria do então distante de Florianópolis município de Biguaçu. Como contou e recontou em livros e entrevistas, passou a ajudar no atendimento aos raros clientes e a ler para o livreiro, com direito de levar para a casa, e devolver depois de devorado, o título que quisesse.
Quando, nos últimos dez, 15 anos de vida, começou a perder a visão, pôde também ter quem lesse (e teclasse o que ditava) para ele. Como um ciclo se fechando. Lembro-me (ou me contaram?) de, em 2013, ao receber a tradução para o árabe publicada no Líbano de “Nur na escuridão” imediatamente manusear, levar o volume ao nariz e cafungar o cheiro da tinta no papel novo – como faz qualquer viciado em livros. Mas, independentemente da cegueira, então, aos 89 anos, aquele que fora seu primeiro alfabeto já tinha sido apagado da mente. Do árabe e do alemão que aprendera até os 8 anos, quando finalmente os pais se mudaram para um distrito de Biguaçu com escola brasileira, ficaram só os palavrões. Era o que costumava dizer, certamente, exagerando.
Outra boutade, a de ser incapaz de trocar uma lâmpada ou botar uma água para ferver, nos últimos tempos, vinha sendo corrigida. Passou a fazer a autocrítica: aquilo era a herança de uma cultura machista. E que imperava, ou impera, desde a antiguidade ao redor de quase todo o mundo dito civilizado. Tempos e costumes mudam e ele soube aprender. Ainda mais tendo ao lado a companheira de toda a vida, primeira leitora e crítica, feminista desde sempre – entre tantas outras coisas, em 1971, Eglê fez a primeira tradução no Brasil de “A mulher eunuco”, de Germaine Greer. Ela, a verdadeira autoridade na casa, proibida de lecionar História (após o Golpe de 64, foi colocada em “indisponibilidade”, com salário congelado), continuou dividindo a inteligência e a cultura enciclopédica com os filhos, e qualquer dos muitos amigos que frequentavam o apartamento de três quartos no Rio. Mãe e pai tinham abandonado em suas adolescências, antes de se conhecerem, as religiões em que foram criados (ele, cristão ortodoxo, ela, católica). Crescemos sem acreditar em deuses (mas, em Papai Noel, comemorando Natal, Carnaval, Páscoa…). Sem batismo, mas, movidos por uma visão humanista, de respeito às diferenças e sonhando com um mundo melhor.
De volta ao pai. Herança ou não, tal inaptidão para as tarefas domésticas era reforçada por uma insana jornada de trabalho. Com a prisão do casal em abril de 1964, Florianópolis ficou inviável e foi trocada pelo Rio. Com quatro filhos pequenos – e um quinto que chegou três anos depois da mudança -, ele saía de casa pouco depois da 8 e, após passar por duas redações, voltava beirando as 23 horas. Daí, quando tento relembrar os primeiros anos cariocas, a imagem do pai (ausente?) é quase sempre dele escondido atrás de um livro ou batucando na máquina de escrever.
Fazer literatura nessas condições parece improvável. De certa forma foi. Após lançar o terceiro livro (e primeiro romance, “Rede”), em 1955, ficou 18 anos sem publicar novo título. Alguns contos aqui ou ali, muitos rascunhos jogados fora, e a dúvida de se realmente era talhado para aquilo. Sem, no entanto, abandonar a obsessão e o prazer pela leitura. Naqueles anos 1960 e início dos 1970, depois de tantos Machado, Graciliano, Faulkner, Balzac, Pessoa, Kafka, Drummond, Joyce, Thomas Mann, Dostoiévski acumulados, acompanhava o que era produzido no Brasil (recordo-me, nos anos 1970, de seu entusiasmo por “Catatau”, de Leminski) e aprofundava o mergulho nos latino-americanos, passando por Borges, Cortazar, Quiroga, Cabrera Infante, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo. Sobre este, acabou em uma feira literária em Guadalajara, em 1988, dando uma palestra para os conterrâneos do autor mexicano que lançou apenas duas obras (fundamentais) em vida, “El llano en llamas” (1953) e “Pedro Páramo” (1955).
Passado o bloqueio, em 1973, voltou com o volume de contos “O primeiro gosto”. E não mais parou de escrever, publicar e experimentar esse gosto. Gozo literário, poderia acrescentar, tentando interpretar a história de um autor que também é um personagem pra lá de intrigante.
Ao celebrar o centenário, quase sete anos após a partida, tentamos também recuperar e procurar um tempo perdido. Explicar o que não tem explicação. Poderia apelar para um paralelo muito distante, a amarga (e nunca enviada) carta ao pai de Kafka, na qual cobra muita coisa, alternando tratamentos nada carinhosos. Mas, além de desprovido de talento para algo no gênero, pouco teria a acrescentar à já mencionada e explicada ausência. No fim da adolescência, junto ao irmão um ano mais velho, embarquei na ilusão de um caminho alternativo ao da guerra fria entre os blocos capitalista e comunista. A salada da contracultura, que incluía a descoberta individual movida a maconha e as agora reabilitadas drogas psicodélicas, mais meditação, macrobiótica e o que mais surgisse. Nesse processo, tivemos algumas discussões. Muitas vezes encerradas com a saída estratégica de “pai burro, filhos inteligentes”. Tanto tempo depois, no meu caso, inverto a falsa verdade. Burro fui em não ter conversado e perguntado mais. Mas, acabei caindo na (muitas vezes dura) realidade e, desde então, pudemos conviver bastante. Algo que, de certa forma, ainda é possível agora. Tantas respostas, e outras perguntas, estão nos livros que deixou. Talvez difíceis, pesados para quem não tem o prazer da leitura, mas, com suas letras combinadas, formando palavras e frases e páginas também combinadas. Com a vida.